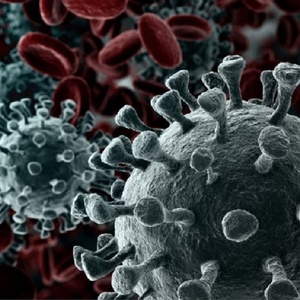Bolsonaro veio para 'causar explosão' e permitir ação 'reparadora' de militares, diz antropólogo
Desde o começo dos anos 90, o antropólogo e professor da Universidade Federal de São Carlos Piero Leirner faz pesquisas com militares. Durante esse período, estabeleceu com integrantes das Forças Armadas uma relação que classifica como sendo de "desconfiança mútua".
Apesar das dificuldades, ele conseguiu manter pesquisas que tratam principalmente da hierarquia nas organizações militares do Exército Brasileiro, como a Escola de Comando e Estado Maior.
Em entrevista à BBC News Brasil, ele afirma que a atual escalada do conflito político não é acidental. Para Leirner, ela faz parte do projeto dos militares para o país e inclui Bolsonaro em um papel bem específico: "funcionar como uma espécie de 'para-raios sem fio terra'".
"Ele causa a explosão, para possibilitar a ação reparadora dos bombeiros", diz o antropólogo, que está prestes a publicar um livro sobre guerras híbridas.
Piero Leirner traça um panorama sobre a atuação dos militares no governo Bolsonaro, e afirma que "não é uma questão de se os militares aprovam ou não o governo: eles são o governo".
Leia os principais trechos da entrevista, concedida por e-mail:
BBC News Brasil - Como os militares embarcaram no governo Bolsonaro?
Piero Leirner - A pergunta poderia ser invertida: "Como Bolsonaro embarcou no governo dos militares?" Vejo matérias e entrevistas com alguns generais que já estavam na reserva, e agora estão no núcleo do governo, dizendo que "aderiram" à candidatura "em cima da hora", em 2018, e fico me perguntando: por que, então, os colegas deles que estavam na ativa começaram a campanha pró-Bolsonaro tão antes?
Embora representasse um risco e até uma ilegalidade, isso era visível desde novembro de 2014. Dias após o segundo turno que reelegeu Dilma Rousseff, Bolsonaro foi à formatura dos cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras e fez um discurso se lançando candidato em 2018. Saiu de lá aclamado como "líder!". Esse tipo de ato só é possível se houver autorização do comandante da Academia. E, como Bolsonaro repetiu a visita em 2015, 2016, 2017 e 2018, posso afirmar que ele contou com o conhecimento do Comandante do Exército e com o descaso dos Ministros da Defesa e dos Presidentes da República.
Deixar a política entrar nos quartéis dessa maneira compromete o Estado como um todo. Por um lado, os civis não deram a menor bola para esses eventos, pois não conseguiram pensar o papel da instituição militar no país. De outro, os militares sabem muito bem o que significa um político entrar numa instalação militar e fazer campanha, lobby, articulação etc... Bolsonaro fez tudo isso sozinho? Não. Foi o topo da cadeia de comando que ligou a ignição para um projeto político de, pelo menos, quatro anos.
BBC Brasil - Em linhas gerais, qual é o projeto das Forças Armadas para o país?
Piero Leirner - Trata-se de um projeto de refundação do Estado. Fazendo um paralelo com sistemas de informática, pense na ideia de "reiniciar o sistema", como um "reboot em modo de segurança", ou seja, quando o "administrador" tem total controle sobre o que "roda" e o que "não roda" naquele sistema.
Para isso, ele aciona ferramentas. As principais sempre foram - e tudo indica que continuarão a ser - o Poder Judiciário e o aparato policial. Entram aí também órgãos de controle e fiscalização e "aparelhos ideológicos", que mobilizam setores estratégicos da sociedade.
Os militares têm um jargão próprio para nomear essa interação. É a ideia de "sinergia". O ex-comandante Villas Bôas, por exemplo, falava da "sinergia entre Exército e TRF-4" (Tribunal Regional Federal da quarta região, responsável pelo julgamento dos processos da Lava Jato em segunda instância). Essa "sinergia" está presente no STF (Supremo Tribunal Federal), com os "assessores militares" que apareceram por lá, como os generais Fernando Azevedo (atual ministro da Defesa) e Ajax Porto Pinheiro (assessor da presidência do STF). Mas também existe em lugares menos visíveis, como na Escola Superior de Guerra (ESG), na concessão de medalhas e homenagens, no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e em redes de parentesco.
Toda essa maquinaria permaneceu mais ou menos latente depois do regime militar, mas voltou a rodar seus protocolos em meados dos anos 2000. Galvanizou cada vez mais os militares, com capturas ideológicas nas fileiras das Força Armadas, por volta de 2010, 2011. Mas tudo de forma sutil.
BBC Brasil - Se os militares estão tão presentes no governo, por que aceitam que Jair Bolsonaro dê declarações vistas como estapafúrdias a respeito da pandemia de covid-19 e entre em rota de colisão com os poderes Judiciário, Legislativo e com governadores e prefeitos, em vez de buscar ações que promovam a união nacional para combater a doença?
Piero Leirner - As declarações de Bolsonaro não são estapafúrdias apenas diante da pandemia. São diante de tudo. Seu papel é funcionar como uma espécie de "para-raios sem fio terra". Ele causa a explosão, para possibilitar a ação reparadora dos bombeiros.
Esse foi o modelo escolhido, e foi escolhido justamente por ser assim: Bolsonaro atrai o caos para si, enquanto a "solução da ordem" emerge das "instituições que estão funcionando". Dentre elas, a que se considera mais funcional e que fez um trabalho de convencimento da opinião pública para parecer assim é a instituição militar. Então, não é que os militares "aceitam" o que o Presidente diz ou faz.
De um lado, eles colocam que "não podem fazer nada, pois o jogo democrático não permite que eles intervenham". De outro, eles não só "aceitam" como "operam" essas manifestações. E saem lucrando, reafirmando sua "vocação democrática".
"A partir daí, os outros poderes começam a reagir, invadindo atribuições. E o que começa a aparecer? A ideia de que são os outros poderes que passam dos limites da democracia. E isso de fato ocorre, pois replicam todos os mecanismos da "sinergia" que foram estabelecidos no passado. Há, assim, uma retroalimentação dessas posições. As Forças Armadas jogam nas duas pontas: no "vitimismo bolsonarista" e na "tolerância" e "respeito" ao jogo institucional, reafirmando sistematicamente estarem longe do golpismo.
Como essa sempre foi uma operação baseada em contradições, justamente o que não se busca é a "união nacional". Pelo menos até a hora em que tudo ficar tão insuportável, desorganizado e caótico, que o único jeito será apelar para que eles deem um jeito nessa situação.
BBC Brasil - Como você vê esse embates entre o governo e o poder Judiciário, especialmente com o STF a partir da instauração dos inquéritos das fake news e da investigação das denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro?
Piero Leirner - Em primeiro lugar, é bom observar que isso segue um padrão: o próprio governo cria uma situação que força uma interferência de outro poder no Executivo, e aí eles entram com a ameaça de "interferir na interferência". Ambos os lados acionam seus mecanismos para dizer que estão na "legalidade".
Desde o começo, o governo poderia simplesmente ter se recusado a entregar o vídeo da reunião ministerial e interromper o processo. O que o STF faria? Nada. Como nada fez quando Renan Calheiros se recusou a receber a notificação do STF de afastamento da presidência do Senado, em 2016, e, dois dias depois, o plenário derrubou a decisão monocrática de Marco Aurélio Mello.
Mas, nesse caso, o governo sabia que, para seus propósitos, era melhor escalar o conflito. E o STF? Agora o Tribunal se tornou a força moral de defesa da "civilização contra a barbárie". Todos os que são antigoverno apostam suas fichas no "padrão lavajatista", que voltou a ser acionado com a saída de Moro. A PF age a favor, age contra, e o que sobra? A ideia de que estamos em um embate final entre duas forças contrárias.
Isso, na linguagem militar, é chamado de "operação em pinça". Sabe aquela tática do "bom policial versus mau policial"? No final, quem se rende é o interrogado. Ou seja, todo mundo acaba aceitando o "reboot do Estado" porque não suporta mais essa situação. Ao que tudo indica, os militares vão forçar essa situação. Se não pela ação direta, pela caneta dos juízes.
BBC Brasil - Acho que aqui cabe a pergunta clássica, muito repetida desde a eleição de Bolsonaro: corre-se o risco de um golpe militar no Brasil?
Piero Leirner - Depende de como você está considerando a ideia de "golpe". O que vejo aqui desde 2014? Uma série de intervenções feitas por militares e a construção de uma rede de outros agentes públicos que agiu em cooperação com eles, na tal "sinergia".
Para fazer isso, houve manipulação de informações, ingerências, operações não explícitas, ameaças e, acima de tudo, propaganda e muito bombardeio ideológico. Todo este processo foi executado, até o momento da eleição de Bolsonaro, com a preocupação de manter o discurso de que "as instituições estão funcionando", mas estavam "em risco" por conta do PT e dos "políticos".
Dilma Rousseff foi grampeada falando de dentro do Planalto. Uma falha de segurança no Palácio do Jaburu quase derruba Michel Temer (no grampo de Joesley Batista). Criou-se uma intervenção no Rio de Janeiro que travou o Congresso por quase um ano. Quem fez isso? Sempre parece ter partido de alguém de fora das Forças Armadas, mas os militares sempre estiveram indiretamente envolvidos, na órbita desses eventos.
Note que a invasão de um poder por outros começou lá atrás. Villas Bôas injetava a política dentro dos quartéis, afirmando que o Exército é uma instituição de Estado, não de governo. Isso é a invasão da política no poder armado. Depois, o poder armado instalou uma sucursal no STF, que ainda está presente com um general, o assessor da presidência Ajax Porto Pinheiro.
Agora o padrão se repete, mas Augusto Heleno (ministro-chefe do GSI) diz que isso causa "instabilidade". Então vamos voltar à pergunta: há sentido em se falar em "golpe", se esses movimentos partem dos mesmos setores do Estado que seguem no protagonismo das ações? A palavra "golpe" tem uma eficácia: dizer que há um rompimento institucional. Mas acho que ela também livra a cara de todos os atores que se mexeram nesse sentido até 2018. Ocorra o que ocorrer, prefiro pensar numa linha de continuidade.
BBC Brasil - Os militares aprovam, então, a forma como Jair Bolsonaro faz política, colocando as instituições brasileiras frequentemente em xeque?
Piero Leirner - "Os militares", assim, no genérico, fica difícil de dizer. Mas os que estão no governo o apoiam, sim.
Há duas questões: eles percebem que as instituições estão sendo colocadas em xeque pelos militares? Ou, ao contrário, as instituições é que estão colocando eles em xeque? É preciso respondê-las dentro de um processo mais amplo, que parte, sobretudo, de "inversões de sinais", algo que se faz muito em "operações psicológicas", descritas em manuais de campanha militares.
Se voltarmos uma década, veremos que se propagou dentro das Forças Armadas a ideia de que elas estavam sendo atacadas pelos governos petistas na tentativa de controle da hierarquia, dos currículos das escolas militares, de interferência nos valores e missões da instituição e, especialmente, com a Comissão da Verdade. A partir daí, eles projetaram essa ideia para o todo, e aderiram à visão de que o PT visava a "divisão" do Brasil: em classes, raças, gêneros, "ideologias" etc.
Aí eles alardeiam: "as instituições foram colocadas em xeque". E o que fazer? Tomar o Estado e começar um processo de aparelhamento, exatamente o que eles alegavam que o PT promovia.
Aí, vamos para a segunda questão: foi o governo Bolsonaro que colocou as instituições em xeque, ou elas mesmas se colocaram, antes? Eu acho que o governo Bolsonaro é a projeção de instituições que primaram pela subversão de seus papéis: as Forças Armadas, onde a política entrou por uma porta e a disciplina saiu por outra, e o Judiciário, que resolveu mergulhar na política. Não é uma questão de se os militares aprovam ou não o governo: eles são o governo e Bolsonaro é o projeto deles.
BBC Brasil - O governo parece se apoiar nas Forças Armadas, mas também em setores ideológicos ligados a Olavo de Carvalho. Essa composição tem suscitado conflitos entre os militares e outros grupos. Como os militares enxergam essa outra ala?
Piero Leirner - Para os militares, Olavo de Carvalho e sua entourage cumprem o mesmo papel de Bolsonaro: são incendiários convenientes. Servem para operar em contraste com a "ala racional", associada a eles próprios. Essa sensação de racionalidade se tornou tão ampla que parece ter conseguido transformar a tal "ala ideológica" em boi de piranha.
Obviamente, os militares perceberam que essa trupe tem a vocação de "homens-bomba". A única coisa que conseguem fazer, de fato, é produzir um enorme estrago, o que não é pouco. Atingem, sobretudo, áreas que são mais difíceis para os militares entrarem, como educação, relações internacionais, cultura. Aí, produzem uma "estratégia de abordagem indireta", uma espécie de terceirização de uma ação ofensiva. No jargão militar, isso se chama "cabeça de ponte", aqui atuando como "forças especiais ideológicas", atrás da linha do inimigo.
De quebra, os militares usam fragmentos do arsenal olavista para convencimento do próprio público, de que a conspiração comuno-globalista está batendo à porta no Brasil, colocando isso no âmbito de uma teoria de guerra de 4ª geração, as guerras assimétricas, irregulares, híbridas. Muito do campo de batalha está nas "operações psicológicas", em propaganda, informações e contra-informações. Não há contradição de fato, ela é só aparente. Para mim, não faz sentido se falar em "alas" no governo.
BBC Brasil - Recentemente, os militares também entraram em rota de colisão com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao propor um plano de gastos públicos para reativar a economia após a pandemia de covid-19. Há diferença de opiniões na condução da política econômica entre os militares e Guedes?
Piero Leirner - Não me parece que tenham entrado, de fato, em rota de colisão com Guedes. Houve mais a apresentação de um "power point", do que um plano para recuperação da economia. No geral, e de forma bem resumida, diria que a maior parte dos militares é liberal, ou neoliberal, e está sintonizada com a ideia de que o Brasil tem um papel de "defesa mínima não provocativa" do capitalismo financeiro. Ou seja, acreditam que o país cumpre o papel indispensável de fornecedor de commodities em escala global, mesmo que sob controle estrangeiro, pois isso tem uma função geopolítica no mundo. E, para sustentar esse papel, concordam com uma ideia de "Estado mínimo".
BBC Brasil - Como os militares lidam com acusações de envolvimento da família Bolsonaro com milícias no Rio de Janeiro?
Piero Leirner - Os militares em geral, não sei. Mas para alguns que estão no controle desse processo é só mais uma vantagem: possibilita um descarte em caso de "pânico", isto é, caso pareça que toda a ordem do Estado e da sociedade tenha naufragado com Bolsonaro. Não tenhamos ilusões: militares ocuparam a segurança pública do Rio de Janeiro em 2018, durante a intervenção federal determinada pelo governo Temer, com Braga Netto à frente. Hoje ele é o ministro-chefe da Casa Civil e até foi apelidado de "presidente operacional". Se não sabiam do que se tratava, mesmo com toda a unificação da inteligência que a intervenção providenciou, é sinal de que não sabem do mínimo para se pensar num projeto de país. "Inteligência", afinal, é isso, reconhecer o terreno onde se pisa.
BBC Brasil - Militares de baixa patente e policiais militares nos Estados têm se mostrado apoiadores fiéis do presidente da República. De alguma forma, isso ameaça o comando das Forças Armadas?
Piero Leirner - Não são só militares de baixa patente que apoiam o governo e a própria figura de Bolsonaro. Diante disso, não creio que eles enxergam com maus olhos esses rompantes das PMs. Acho que há mais sintonia ideológica do que conflito de atribuições. Todos concordam que a disciplina saiu para dar uma volta, e assim todos fingem estar "disciplinados", porque estão na mesma "vibração", outro termo bastante utilizado no jargão militar.
BBC Brasil - Há tentativas abertas de formação de grupos paramilitares pró Bolsonaro, como é o caso do acampamento "300 do Brasil", montado recentemente em Brasília. O que isso significa?
Piero Leirner - Se esses "grupos" vão ganhar força é difícil dizer. Vendo por alto, pode ser que apareça algum controle de militares, se assim precisar. Por enquanto, eles estão nessa guerra psicológica, deixando todo mundo com os nervos à flor da pele.
BBC Brasil - Os pedidos de impeachment contra Bolsonaro se intensificaram na Câmara dos Deputados. Como as Forças Armadas lidam com essa possibilidade?
Piero Leirner - Na minha opinião, o impeachment, se vier, será porque chegou a hora do descarte desse "para-raios". Mas, para isso ocorrer, é preciso que a percepção do caos iminente seja absoluta. Tem de chegar ao ponto em que o tal "reboot do Estado" seja consenso. Se vier, vem com pacote de transformações mais abrangente.
Acho mais viável sustentar Bolsonaro nessa condição fraca e manipular a eleição de 2022, produzindo um repeteco de 2018 com uma "solução de consenso". Uma chapa composta por Sergio Moro e Santos Cruz, por exemplo, versus alguma ameaça petista de plantão. Se vão antecipar isso com Mourão, é difícil saber.
Precisamos ter noção de como estará o controle do Congresso e do Judiciário, com os tribunais superiores representando a caneta que irá decidir quem pode e quem não pode existir na política. Já o GSI deve ter o papel de abastecer todo esse processo com informações.
BBC Brasil - É possível imaginar como seria um governo Mourão?
Piero Leirner - Até gostaria de pensar como seria esse cenário, mas só dá para arriscar algo vendo o desenho de uma saída de Bolsonaro, se ela ocorrer de fato. Tudo depende dessa avaliação de "ponto de ruptura", e como certos atores vão ser enquadrados. Ainda mais com esse imponderável da pandemia, e todos os seus desdobramentos no plano internacional.
Considerando que o consórcio que projetou a situação até aqui ainda está no controle, diria que um governo Mourão teria mudanças superficiais, embora todo mundo possa ficar aliviado com o aparente triunfo da "civilização" sobre a "barbárie".